O jornalismo está debaixo de fogo. Nas situações de guerra, mas também nos ambientes e nas sociedades que se ufanam de ter entre os princípios básicos do seu funcionamento a liberdade de opinião, de informar e ser informado.
É inevitável: a degradação da actividade jornalística, do comportamento das estruturas dominantes no jornalismo e do exercício da própria profissão está associada à transformação da democracia numa coisa puramente formal e não representativa da vontade popular a que resolveu chamar-se «democracia liberal».
Se a democracia liberal vive da asfixia do debate, do confinamento da opinião, da repressão do espírito crítico e da obstrução do esclarecimento, o jornalismo dominante reflecte estes desvios ao funcionamento livre da sociedade. De «quarto poder», entendendo-se por isto um papel de contraponto e de independência em relação à gestão dos três outros poderes, o jornalismo transformou-se num instrumento não apenas útil, mas também indispensável para as estratégias abusivas de governação.
A resultante do jornalismo que se pratica entre nós, entendendo-se por isso o chamado «mundo ocidental», é uma caricatura degradante da liberdade de opinião e informação, paira como um meio tóxico sobre os cidadãos – a maioria dos quais não dão por isso porque confiam nela quase sempre sem espírito crítico, porque acreditam nas mentiras em que a realidade vai sendo embrulhada, porque os próprios meios de comunicação dominantes neles inocularam o vírus do alheamento, o espírito de rebanho.
No resto do mundo a situação não será diferente, mas nesses espaços não se afirma com tanto afinco e com ênfase arrogante o apego às liberdades fundamentais. Se o «mundo ocidental» se olha como exemplo, então as práticas que exerce para que se cumpra essa superioridade civilizacional contrariam e negam o discurso oficial. A máquina mediática ocidental, que controla os circuitos e conteúdos informativos transnacionais graças aos seus poderes económico-financeiros e tecnológicos, trabalha com métodos coloniais, mistura ostensivamente informação com propaganda, perdeu os escrúpulos perante a mentira, transformou-se num aparelho global de guerra, militarismo, expansionismo e dominação ao serviço das oligarquias de espectro global.
A tragédia dos jornalistas
Os jornalistas, ou pelo menos a resultante do seu trabalho que mais influencia as sociedades, não estão inocentes no processo que conduziu a este panorama degradante.
Seria muito injusto associar esta realidade traumática aos jovens que sofrem com as dificuldades de acesso à profissão e que, uma vez em funções, se deparam com um clima de autoritarismo, controlo e instrumentalização aos quais é difícil resistir em situações de precariedade e de insegurança. As cadeias patronais de comando, infelizmente asseguradas por jornalistas que assim se dão bem nas suas carreiras, trituram sem piedade as jovens e os jovens jornalistas que não se encaixem rapidamente no sistema de informação à la carte no qual a realidade é um simples acidente e, mesmo assim, só no caso de coincidir com os interesses dos proprietários desses meios. Não é por acaso que sendo a democracia adjectivada como «liberal», a informação que se pratica é de índole «corporativa», oligárquica.
«A resultante do jornalismo que se pratica entre nós, entendendo-se por isso o chamado "mundo ocidental", é uma caricatura degradante da liberdade de opinião e informação, paira como um meio tóxico sobre os cidadãos (...).»
Nas últimas semanas temos vindo a assistir a uma série de explosões em meios de comunicação social provocadas por entidades patronais, em alguns dos casos com os rostos encapuzados em fundos financeiros de casino, guiadas pelo vício da especulação, que jogam com os direitos e a vida dos jornalistas como peças das suas manobras gananciosas ou como solução para supostas crises.
Os jornalistas, assim tratados como gado, lutam pelos seus direitos, mas dificilmente alguém os ouve porque os poderes, tanto o executivo como o legislativo, são meros cúmplices das trafulhices patronais. Podem fazer sonoras afirmações de preocupação com a situação dos profissionais, mas não mexerão uma palha em sua defesa porque a classe política e o corporativismo mediático são absolutamente simbióticos, muito mais num período em que, no caso de Portugal, se encavalitam dois actos eleitorais.
O grande pecado dos jornalistas, sobretudo desde o advento do neoliberalismo, foi o de quase terem deixado morrer, na prática, as suas associações profissionais, de não apostarem na solidariedade e na união de uma classe tão cobiçada pelos poderes – que não perdem uma oportunidade para fazer funcionar as suas estratégias de divisão, de chantagem e de exploração do oportunismo sabujo.
Num quadro de quase total inserção dos meios de comunicação social no sector privado da economia, ou seja, nas estruturas florescendo com a ditadura do mercado, os jornalistas não cuidaram das suas estruturas representativas, principalmente aquelas que poderiam responder de imediato a situações arbitrárias e abusivas como os conselhos e comissões de redacção ou quaisquer outras formas de associação e de afirmação profissional que as leis lhes facultam. Extinguiram-se as formas de organização de base e, com esse fenómeno, estiolaram igualmente as leis que as regulam, hoje alvos fáceis dos poderes patronais, contando com a já citada cumplicidade da classe política, isto é, os «arcos da governação». Na superestrutura bipolar, pública e privada, que controla o funcionamento e os conteúdos dos meios de comunicação, uma mão lava a outra; no plano jornalístico, a passividade, o conformismo e a transformação gradual dos jornalistas em ilhas isoladas e indefesas aceleram o extermínio de uma profissão nobre.
«O grande pecado dos jornalistas, sobretudo desde o advento do neoliberalismo, foi o de quase terem deixado morrer, na prática, as suas associações profissionais, de não apostarem na solidariedade e na união de uma classe tão cobiçada pelos poderes (...).»
Mesmo quando lutam, os jornalistas mal conseguem fazer-se ouvir. Ao longo dos tempos de implantação e expansão do neoliberalismo conformaram-se com um sistema maquiavélico que os foi manipulando, modelando, usando e dividindo, ao mesmo tempo que se via livre, uma após outra, das vozes incómodas, inconformadas e com opiniões próprias.
A ausência de solidariedade da generalidade dos jornalistas e das estruturas representativas da profissão para com essas vozes marginalizadas, a indiferença perante as purgas a que estão submetidos os camaradas que não se encaixam no sistema de produção da opinião única, acabarão sempre por repercutir-se negativamente na classe jornalística como um todo, tornada cada vez mais vulnerável e indefesa perante as arbitrariedades, os caprichos e os interesses de máfias patronais com as mãos livres.
Jornalistas oportunistas, carreiristas, colaboracionistas e com mentalidade de capatazes sempre houve – situações que são comuns a todas as profissões. E as estruturas jornalísticas devem ter a coragem de fazer-lhes frente em vez de se conformarem, dia-após-dia, com os seus comportamentos, mesmo que ajam com as costas muito quentes. Os jornalistas têm leis do seu lado, que se sobrepõem, se invocadas, a quaisquer sistemas de organização e comportamentos internos que não as cumpram. O medo e a inércia induzem faltas de respeito e alimentam as pulsões patronais para violar as leis.
Percebem-se de maneira elementar as razões pelas quais praticamente todos os meios de comunicação que «informam» o mundo estão em mãos de oligarquias transnacionais. É uma inerência da «democracia liberal», assim como a «democracia liberal» é uma inerência da máquina global de mistificação. São simbioses intrínsecas e essenciais do neoliberalismo, o fascismo económico de ambições globalistas para o qual os jornalistas são meras ferramentas úteis e prontas a deitar fora se não funcionarem a contento ou forem meros empecilhos, por exemplo invocando as leis e ousando trabalhar com a independência própria da profissão.
Armadilha «de referência»
As chamadas publicações «de referência» são uma armadilha, sobretudo na formação da opinião pública, um instrumento essencial e «elegante» das estruturas de poder e patronais. São propriedade de grandes grupos oligárquicos pretendendo convencer-nos de que dão inteira liberdade aos profissionais da comunicação, mesmo que, pontualmente ou não, a actividade destes lese os seus interesses – já se ouviram histórias da carochinha bem mais credíveis. Ao mesmo tempo, os jornalistas por eles contratados fazem de conta (ou chegam a acreditar) que têm inteira liberdade, ao mesmo tempo que as classes políticas e patronais os vão envolvendo em auras de credibilidade, qualidade profissional e sapiência.
O tratamento do problema da Ucrânia é realmente um caso exemplar da maneira mistificadora, desinformativa, alienante e até atemorizadora como a comunicação social dominante se comporta. A «Operação Mockingbird» foi uma linha de montagem da propaganda imperial montada pela Agência Central de Inteligência (CIA) norte-americana logo no início da guerra fria para interferir nos principais meios de comunicação social dos Estados Unidos, da Europa e através do mundo. Os numerosos autores que investigaram o processo revelam que a CIA inscreveu centenas de jornalistas de numerosas nacionalidades nas suas folhas de pagamentos de modo a tornar dominantes as posições do regime norte-americano, se possível em todo o mundo. O jornalista Carl Bernstein informou, na sequência de uma investigação realizada nos finais dos anos setenta do século passado, que a CIA pagava a mais de 400 jornalistas de 25 empresas jornalísticas proprietárias de publicações sonantes como a Newsweek, Time, Miami Herald, das televisões ABC e NBC e das principais agências de notícias mundiais: AP, UPI e Reuters. O jornal Washington Post, através dos seus proprietários e editores, era uma parte da operação. «a CIA inscreveu centenas de jornalistas de numerosas nacionalidades nas suas folhas de pagamentos de modo a tornar dominantes as posições do regime norte-americano, se possível em todo o mundo» William Scharp, advogado que foi uma figura de relevo no caso da morte de Martin Luther King, explicou que a CIA financiava milhares de jornalistas, além de ter as suas próprias organizações de media. Para a agência, revelou um antigo membro da rede de propaganda, «era mais barato pagar a um jornalista do que a uma prostituta». E Thomas Braden, chefe de divisão de um departamento governamental de Washington, testemunhou que «não havia limite de dinheiro para gastar, não havia limites para as actividades a realizar na guerra fria secreta». A «Operação Mockingbird» funcionava, segundo a mesma fonte, «como uma multinacional». Um relatório de 1976 do Congresso dos Estados Unidos concluiu que centenas de indivíduos em todo o mundo tentam influenciar as opiniões através de propaganda dissimulada, graças ao acesso directo a jornais e outros periódicos, serviços de imprensa, agências de notícias, rádios, televisões, editoras e outros meios de comunicação estrangeiros. Terá sido a «Operação Mockingbird» uma coisa do passado? A realidade diz-nos que não. E os factos comprováveis todos os dias, tanto nas causas como nos efeitos, explicam sem rodeios que o processo de imposição de uma opinião única, fazendo dos interesses do regime norte-americano os dominantes e legítimos em todo o mundo, tem vindo a consolidar-se de maneira asfixiante. «factos comprováveis todos os dias, tanto nas causas como nos efeitos, explicam sem rodeios que o processo de imposição de uma opinião única, fazendo dos interesses do regime norte-americano os dominantes e legítimos em todo o mundo, tem vindo a consolidar-se de maneira asfixiante» Dados que é possível obter através de pesquisas pouco mais do que sumárias revelam-nos que a «Operação Mockingbird» pode até ter perdido a designação com o passar das décadas, mas os seus objectivos estão mais vivos do que nunca e os métodos utilizados refinaram. Nada indica que a CIA tenha deixado de pagar a jornalistas, mas a realidade actual ultrapassa em muito esse processo e adaptou-se à dinâmica vertiginosa da circulação das mensagens emitidas pelos media, proporcionada pelas novas tecnologias e a multiplicação de plataformas de emissão e partilha de conteúdos. «dezenas de ex-operacionais das várias agências de espionagem internas e externas [...] transferiram-se e transferem-se para lugares de «analistas», «comentadores» e «especialistas» das grandes cadeias de televisão e dos principais jornais, onde funcionam como fontes inquestionáveis e acima de qualquer suspeita das quais bebem os principais órgãos de manipulação social em todo o mundo» A agência central de espionagem dos Estados Unidos descobriu um novo ovo de Colombo, que lhe permite até poupar nas despesas: dezenas de ex-operacionais das várias agências de espionagem internas e externas, alguns que desempenharam até recentemente cargos de chefia máxima, transferiram-se e transferem-se para lugares de «analistas», «comentadores» e «especialistas» das grandes cadeias de televisão e dos principais jornais, onde funcionam como fontes inquestionáveis e acima de qualquer suspeita das quais bebem os principais órgãos de manipulação social em todo o mundo. As mensagens da CIA, a propaganda imperial, fluem assim directamente para milhares de milhões de pessoas que consomem unicamente os meios dominantes ditos de informação. Não é verosímil, de facto, que essa nova espécie de «analistas», «comentadores» e «especialistas» de âmbito globalista abdiquem da sua experiência de espiões acumulada durante décadas para se tornarem «independentes» ao sentar-se nos grandes estúdios que propagam veneno embrulhado em verdade, liberdade e rigor de informação. Um dos casos mais relevantes dos últimos anos é a transformação do director da CIA entre 2013 e 2017, John Brennan, em analista sénior de segurança e inteligência nas televisões NBC News e MSNBC, cargo para o qual transitou mal deixou Langley. Na sua nova posição foi reencontrar Juan Zarate, que foi conselheiro de segurança nacional da Administração Bush. Um serviu Obama, outro o seu antecessor, e assim se verifica não haver querelas partidárias nestas matérias onde o partido é único, tal como a informação dominante e a opinião que induz. Não há, porém, como a CNN para integrar espiões, super polícias, operacionais do contra-terrorismo e generais do Pentágono, de preferência com ligações à indústria da morte, nas suas equipas informativas. É uma realidade que faz todo o sentido. A CNN é o veículo internacional por excelência das mensagens do regime norte-americano, o que acontece desde a sua fundação, e a criação do mito da «informação em directo» servida logo na primeira guerra contra o Iraque – abafando todo e qualquer contraditório. De tal maneira que os jornalistas empenhados em trabalhar «à antiga», isto é, dando a conhecer outros lados da situação foram rapidamente olhados como «cúmplices» de Saddam Hussein. Tal como acontece actualmente aos meios de comunicação verdadeiramente independentes, imediatamente acusados de estarem «ao serviço da Rússia» quando abordam outras realidades que não coincidam com as versões oficiais de Washington, da NATO, da União Europeia e da engrenagem de manipulação social. «Tendo em consideração o número de CNN’s franchisadas que se multiplicam através do planeta – operação à qual Portugal não escapou – entende-se como este processo associa as agências do poder imperial à construção de uma opinião única formatada segundo os interesses do complexo militar, industrial e tecnológico que governa os Estados Unidos, além da NATO e da União Europeia como seus ramos militar e político» Ao serviço da CNN, como «comentadores independentes», estão, por exemplo, James Clapper e Michael Hayden, ex-directores de inteligência nacional norte-americana; Chuck Rosenberg, ex-director da DEA, agência dita antidroga mas com a reputação manchada por vínculos pouco claros com meios do narcotráfico, tal como acontece com a CIA em relação ao ópio/heroína do Afeganistão; James B. Conney, ex-conselheiro do director do FBI; Frank Figliuzzi, ex-chefe de contra-espionagem no FBI; Asha Rangcapo e James Galiano, ex-destacados agentes do FBI; Mike Rogers, ex-presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes; Steven L. Hall, antigo oficial de operações da CIA com mais de 30 anos de experiência em postos de comando na Eurásia e América Latina; Philip Mudd, ex-operacional da CIA; Andrey McCabe, ex-director adjunto do FBI; John Campbell, ex-supervisor especial do FBI. Neste mundo selecto existem, com regularidade, algumas mudanças – também elas muito significativas. Por exemplo, Anthony Blinken, ex-conselheiro de segurança de Obama, trocou recentemente o lugar de «comentador independente» da CNN pelo de secretário de Estado, isto é, a segunda figura da administração Biden; e Samantha Vinograd, também membro do Conselho de Segurança de Obama, deixou agora o cargo de «comentadora de política externa» da CNN transitando para o Departamento de Segurança Interna de Biden; Fran Townsend, ex-conselheiro de Segurança Nacional, trocou há pouco a CNN pela CBS News. A CNN tem, portanto, a parte de leão no recrutamento de membros do aparelho de espionagem, militar e governamental dos Estados Unidos. «[No Reino Unido] o público é bombardeado com opiniões e informações seleccionadas apoiando as prioridades dos fazedores de política; Os media fornecem de forma rotineira informação deturpada e estão longe de actuar com independência» Declassified UK Tendo em consideração o número de CNN’s franchisadas que se multiplicam através do planeta – operação à qual Portugal não escapou – entende-se como este processo associa as agências do poder imperial à construção de uma opinião única formatada segundo os interesses do complexo militar, industrial e tecnológico que governa os Estados Unidos, além da NATO e da União Europeia como seus ramos militar e político. O recrutamento de personalidades como as constantes da lista não exaustiva aqui publicada é comum a todas as grandes cadeias norte-americanas de televisão, da Fox à MSNBC. E também a jornais olhados como «bíblias» da independência – New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, por exemplo. Susan Hennessy trocou recentemente o lugar neste último jornal por um cargo na Divisão de Segurança Nacional da Administração Biden. E em alguns casos não existe exclusividade. Michael Hayden é uma espécie de deus do comentário. Além da CNN, pode dizer-se que está em todo o lado: MSNBC, Fox News, programa The Late Show, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. Uma rendição absoluta do aparelho informativo à sua experiência de director da espionagem nacional dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, a desclassificação, no ano passado, de alguns documentos governamentais no Reino Unido veio provar que a imprensa do país, «do Times ao Guardian, ajuda rotineiramente a diabolizar Estados identificados pelo governo como inimigos enquanto tenta branquear os que são aliados». A conclusão é da publicação Declassified UK. De acordo com a mesma fonte, «o público é bombardeado com opiniões e informações seleccionadas apoiando as prioridades dos fazedores de política; Os media fornecem de forma rotineira informação deturpada e estão longe de actuar com independência». À luz destes factos indesmentíveis, e que desmontam a «verdade» cultivada pelo aparelho de comunicação funcionando à escala globalista, não temos de nos surpreender com o tom histérico da abordagem da actual situação na Ucrânia e a «iminência», que já se prolonga há alguns meses, de uma invasão russa. «o cidadão que se considera informado ao frequentar a comunicação dominante desconhece, por exemplo, que o governo ucraniano é sustentado por grupos paramilitares nazis, os mesmos que integram as forças de repressão que fazem guerra às populações das regiões do Leste do país, onde grande parte dos habitantes são russófonos» Aos consumidores dos órgãos de manipulação social basta saber que a Rússia quer ocupar a Ucrânia, não se sabendo bem porquê, talvez porque sim, é uma inerência própria dos «maus». E, para concretizar a invasão, 100 mil efectivos militares russos movimentam-se na fronteira com o território ucraniano. Então, desde âncoras de telejornais a «especialistas» e «analistas», passando por peças montadas supostamente informativas, todos tratam o tema sob este único ângulo, máquinas repetidoras das opiniões de espiões reciclados em «comentadores» actuando nas imperiais cadeias de televisão e outros meios. A razão assim gritada não tolera contraditório. E ai dos que tentam, baseados em factos comprovados, demonstrar que há muito mais para saber sobre o actual cenário ucraniano. Quem o fizer é «cúmplice» dos russos, quiçá um disseminador de «mensagens de ódio» prontas a cair na alçada censória das redes sociais. Por este caminho, o cidadão que se considera informado ao frequentar a comunicação dominante desconhece, por exemplo, que o governo ucraniano é sustentado por grupos paramilitares nazis, os mesmos que integram as forças de repressão que fazem guerra às populações das regiões do Leste do país, onde grande parte dos habitantes são russófonos. Não é por isso, porém, que existe o risco de uma intervenção russa: a situação tensa prolonga-se há sete anos, desde o golpe dito «democrático» dado em Kiev pelos Estados Unidos com o apoio da União Europeia. «Nos termos do documento [Acordo de Minsk], o governo de Kiev e os representantes das populações de Donetsk e Lugansk comprometeram-se a encontrar uma solução para os seus diferendos que proporcione uma autonomia àquelas regiões dentro do que está previsto na lei ucraniana. A Rússia, ao contrário do que é comum ouvir-se e ler-se, não é parte activa: actua como um dos países mediadores, tal como a França e a Alemanha» Outro dos comportamentos manipuladores assumidos pela comunicação dominante é a desinformação em torno do Acordo de Minsk sobre uma saída política para a situação ucraniana. Nos termos do documento, o governo de Kiev e os representantes das populações de Donetsk e Lugansk comprometeram-se a encontrar uma solução para os seus diferendos que proporcione uma autonomia àquelas regiões dentro do que está previsto na lei ucraniana. A Rússia, ao contrário do que é comum ouvir-se e ler-se, não é parte activa: actua como um dos países mediadores, tal como a França e a Alemanha. Ao abordar a situação existente na região os meios de comunicação evitam tratar e comentar a ideia de que as tropas russas na fronteira com a Ucrânia se movimentam com pleno direito, porque estão no interior do seu país. Já o mesmo não pode dizer-se das tropas da NATO, que estão fora dos territórios das suas nações, colocadas ameaçadoramente nas imediações das fronteiras com a Rússia. Explica a comunicação que temos, fazendo eco de generais, espiões e políticos sem coluna vertebral, que esse gigantesco aparelho militar é para nos «defender», tal como foi invocado para as agressões ao Afeganistão, Iraque e Líbia. E o cidadão comum, contaminado e intoxicado, acredita. Também não é explicado aos envenenados leitores e telespectadores que os Estados Unidos e o seu braço armado da NATO estão ansiosos que a Rússia proceda à sempre «iminente» invasão. Estão mesmo dispostos a provocá-la e, para isso, há indícios de infiltrações de agentes especiais de países da NATO no Leste da Ucrânia para cometerem um atentado, admitindo-se que com armas químicas, De acordo com a eventual estratégia atlantista, a acção criminosa seria atribuída por Moscovo ao regime de Kiev, seguindo-se a intervenção militar para proteger as populações do Donbass. Sejamos lúcidos, ao contrário do que pretende a manipulação social: que interesse tem a Rússia numa guerra quando se encontra em fase de desenvolvimento económico e de afirmação como grande potência do multilateralismo, a par da China? Uma Rússia empenhada em processos de integração multifacetada para Oriente carece de estabilidade, não do envolvimento numa aventura militar. Aliás, a recente tentativa de «revolução colorida» no Casaquistão, através de um golpe à maneira da Praça Maidan em Kiev, teve a ver com o objectivo de multiplicar os acontecimentos que obriguem Moscovo a desperdiçar meios e energias necessários para desenvolver a estratégia traçada. Porém, desta feita Estados Unidos e aliados saíram-se mal: a lição da Ucrânia foi aprendida pelo regime russo – a resposta estava preparada e funcionou. Os Estados Unidos e a NATO têm efectivamente todo o interesse em desviar Moscovo dos seus principais objectivos, comprometendo-os num conflito desestabilizador e contraproducente no plano internacional que, ao mesmo tempo, travaria a fase de consolidação e afirmação do país. Quando Putin garante que não pretende intervir na Ucrânia não é para ser «bonzinho» ou especialmente cordato; na verdade, tem todas as razões objectivas para o dizer. E também não o vemos a mexer um dedo que seja para erradicar o poder fascista em Kiev. Só um agravamento provocatório da violência do regime ucraniano sobre as populações do Leste seria susceptível de obrigar Moscovo a fazer o que realmente não quer. E não o deseja porque, nessas circunstâncias, a Rússia seria também obrigada a rever a sua presença militar na Síria para ajudar o governo legítimo a combater o terrorismo objectivamente ao serviço dos Estados Unidos e da NATO, que têm assim mais uma razão para empurrarem Moscovo em direcção à Ucrânia. A resposta à hipotética acção russa no território ucraniano, tudo o indica, não seria dada pela colocação de tropas norte-americanas no terreno – coisa que até os desinformados consumidores da informação asfixiante já sabem. O que desconhecem é a previsível intenção da NATO de promover e treinar uma miríade de estruturas armadas de «resistência ucraniana», a partir dos grupos paramilitares nazis, para criar, segundo militares norte-americanos, um «pântano» onde se enterrem as tropas russas invasoras. Isto é, um «novo Afeganistão» agora desenvolvido pelo apoio ocidental a «combatentes da liberdade» oriundos dos sectores saudosistas de Hitler no lugar dos terroristas islâmicos que deram origem à al-Qaeda. «É evidente que os múltiplos ângulos sob os quais os acontecimentos podem ser vistos obrigariam os consumidores de informação a pensar. E pensar é tudo quanto os poderes dominantes pretendem evitar – como também se percebe na actual campanha eleitoral portuguesa – porque assim não conseguiriam cultivar a robotizada opinião única» A comunicação social também tem silenciado, certamente seguindo o comportamento dos espiões transformados em «comentadores», a proposta apresentada pela Rússia aos Estados Unidos de um tratado escrito capaz de garantir a paz e a segurança entre os dois países desde que a Ucrânia não seja admitida na NATO e esta aliança não instale mísseis nas fronteiras com o território russo. Proposta razoável sabendo-se que a seguir ao desmembramento da União Soviética a administração do presidente William Clinton se comprometeu com Moscovo a manter o status quo da NATO, significando isso que a Aliança Atlântica não se deslocaria para Leste na sequência da derrocada do muro de Berlim. Do compromisso de Washington, pela voz de Clinton, resta aquilo que sempre foi: uma deslavada mentira. Os Estados Unidos evitam dar qualquer resposta à nova proposta de Moscovo. Isso diz muito sobre os reais interesses de Washington servidos pela crise actual – que é artificial e cultivada de Ocidente para Oriente. O que ajuda a explicar a movimentação das tropas russas no interior das suas fronteiras, de facto para as defender. O tratamento do problema da Ucrânia é realmente um caso exemplar da maneira mistificadora, desinformativa, alienante e até atemorizadora como a comunicação social dominante se comporta. É evidente que os múltiplos ângulos sob os quais os acontecimentos podem ser vistos obrigariam os consumidores de informação a pensar. E pensar é tudo quanto os poderes dominantes pretendem evitar – como também se percebe na actual campanha eleitoral portuguesa – porque assim não conseguiriam cultivar a robotizada opinião única. Para isso é essencial a informação do tipo fast food, cozinhada com sound bites, frases feitas, mentiras repetidas e métodos próprios do marketing publicitário. Uma lavagem cerebral, em suma. Uma tarefa onde pontificam brigadas de espiões reciclados em «analistas» fazedores de opinião e os respectivos batalhões de máquinas repetidoras que envenenam o mundo. Um sistema que faz parecer os primeiros tempos da «Operação Mockingbird» uma brincadeira de crianças. José Goulão, Exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
Esses espiões que tratam da nossa informação

Coisa do passado?
A CNN monopoliza
É o que temos
Contribui para uma boa ideia
Cria-se e alimenta-se uma elite, uma aristocracia jornalística sofrendo de complexo de superioridade sobre os companheiros de profissão que não foram dotados com os seus skills (dotes, em linguagem da plebe), ou então que ousam ter opiniões diferentes da versão única, recorram a fontes plurais ou tenham até o desplante de criticá-la. Os jornalistas «de referência», os iluminados conhecedores da política e dos jogos de poder, dos quais são íntimos e até actores, têm a União Europeia e a NATO na conta de infalíveis e inatacáveis, enfim são também eles pilares da «democracia liberal». Pisam as alcatifas dos poderes, bebem do fino, no caso de se esmerarem na conquista de boas referências podem até ser contemplados com uma cadeirinha num qualquer conclave de Bilderberg, entre a nata conspirativa mundial. Porque têm atributos próprios da aristocracia, são jornalistas que não hesitam em atacar e difamar, nas suas prosas e dissertações, companheiros de profissão que se mantêm fiéis aos princípios da deontologia e teimam em ser independentes.
O jornalismo foi minado pelo «jornalismo de referência», instrumento do poder neoliberal globalista. O estado desprestigiado e desprestigiante a que o jornalismo chegou tem igualmente que ver, sem dúvida, com o papel divisionista e segregacionista representado por essa suposta elite, pelo seu desempenho na formatação da opinião única e na perseguição a quem não a segue, na descredibilização do jornalismo guiado pela deontologia e pela colagem letal aos poderes políticos e das oligarquias patronais.
O extermínio dos jornalistas
O extermínio físico dos jornalistas é um passo qualitativo extremo que os poderes considerados «democráticos» e aliados carnais dos centros da democracia liberal não hesitam agora em dar.
Em cento e alguns dias, Israel assassinou em Gaza mais de cem jornalistas, o maior massacre, que prossegue, de profissionais da comunicação alguma vez registado em conflitos da história moderna. Ao governo sionista de Israel tudo serve de argumento e pretexto para assassinar jornalistas e também as suas famílias.
Wahel Dahdouh, jornalista palestiniano chefe da delegação de Gaza da estação televisiva Al Jazeera, com sede no Catar, perdeu a mulher, três filhos e um neto às mãos de soldados israelitas. Um dos filhos era igualmente jornalista e foi abatido na região de Rafah, no sul do território junto à fronteira com o Egipto, em zona que as tropas sionistas prometeram livre de acções militares.
A jornalista palestiniana Shireen Abu Akleh faleceu esta quarta-feira, depois de ser atingida com um disparo na cabeça, quando cobria um raide das forças israelitas em Jenin, no Norte da Cisjordânia ocupada. O Ministério palestiniano da Saúde afirmou em comunicado que Abu Akleh, repórter da Al Jazeera de 51 anos, foi levada de urgência para um hospital próximo, onde faleceu. Ali Samoudi, produtor da mesma cadeia televisiva, foi atingido a tiro nas costas e encontra-se em situação estável, segundo referiu o ministério. Em declarações à agência WAFA, Samoudi disse que se encontrava com Abu Akleh e outros jornalistas nas escolas do campo de refugiados de Jenin, e que todos usavam coletes à prova de bala com a indicação «imprensa» quando foram atacados por soldados israelitas. O produtor da Al Jazeera acusou as forças israelitas de os terem atingido de forma premeditada, na medida em que sabiam que todos os que se encontravam naquele local eram jornalistas e que ali não havia elementos armados ou confrontos. Desta forma, Samoudi desmentiu as declarações de um responsável do Exército israelita a uma rádio em que negava qualquer responsabilidade dos militares na morte da jornalista. Também a jornalista Shatha Hanaysha, que estava perto de Abu Akleh quando esta foi atingida, confirmou que os soldados israelitas dispararam contra eles, mesmo estando bem identificados. Governo palestiniano, partidos políticos e diversas organizações condenaram os factos ocorridos em Jenin. O primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh, afirmou que Abu Akleh foi morta «quando exercia o seu dever jornalístico de documentar os crimes horrendos cometidos pelos soldados da ocupação contra o nosso povo». O Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou Israel de ter atingido Abu Akleh e Ali Samoudi de forma «intencional e deliberada», e relacionou o facto com a implementação da política do governo israelita de matar a tiro os palestinianos. Por seu lado, o responsável da pasta dos Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, disse que «se voltou a cometer o crime de silenciar a palavra, e a verdade é silenciada por balas da ocupação». Responsáveis da Al Jazeera manifestaram-se «chocados e tristes», e o chefe do canal nos territórios ocupados, Walid al-Omari, afirmou que aquilo que se passou em Jenin «foi um assassinato premeditado por parte do Exército de ocupação». Em Janeiro deste ano, a WAFA afirmou que, em 2021, foram registadas 384 situações de abuso por parte das forças israelitas contra jornalistas que trabalhavam nos territórios ocupados da Palestina. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Internacional|
Jornalista da Al Jazeera morta a tiro durante ataque israelita a Jenin

Palestinianos denunciam assassinato
Contribui para uma boa ideia
Shireen Abu Akleh, jornalista com dupla nacionalidade palestiniana e norte-americana, igualmente ao serviço da Al Jazeera, foi fuzilada intencionalmente, há meses, por um soldado sionista na Cisjordânia ocupada. De Washington não chegou qualquer acção efectiva de repúdio.
Gonzalo Lira, jornalista chileno e norte-americano que expôs corajosamente – obviamente contra as correntes jornalísticas manipuladas pelo colonialismo – as atrocidades cometidas pelo regime nazi-banderista de Kiev na região do Donbass, morreu recentemente na sequência da ausência de cuidados médicos quando esteve sob tortura na prisão às ordens de Volodymyr Zelenski, um democrata liberal acima de qualquer suspeita. O silêncio norte-americano perante o caso diz tudo.
A Julian Assange, vivendo a agonia da ameaça de prisão perpétua ou liquidação nas masmorras norte-americanas, parece não haver «justiça ocidental» que lhe valha depois de ter fundado o website WikiLeaks e nele ter exposto e comprovado as cruas realidades sobre a conspiração e o terrorismo como instrumentos do sistema imperial e da sua vocação «civilizacional».
Nunca existiu um ataque tão cerrado contra a vida de cidadãos que desempenham trabalhos jornalísticos como actualmente. «Os nossos coletes de imprensa, em vez de serem símbolos universais de protecção, tornaram-se alvos das miras israelitas, ao ponto de os nossos colegas em Gaza dizerem que usar coletes os torna inseguros», denuncia o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.
Perante a mascarada de justiça que prossegue num tribunal de Old Bailey, evaporam-se os princípios deontológicos e as normas éticas de uma profissão essencial para a dignidade de qualquer ser humano. O silêncio guardado pela comunicação social corporativa em relação ao linchamento judicial de Julian Assange e da liberdade de informação que está a decorrer em Londres testemunha o estado de miséria a que chegou o jornalismo dominante, capturado pelos grandes interesses minoritários e elitistas que controlam o mundo. Perante a mascarada de justiça que prossegue num tribunal de Old Bailey para crucificar o homem que contribuiu para demonstrar alguns dos mais incontestáveis crimes contra a humanidade que têm vindo a ser cometidos em nome da democracia, das liberdades e dos direitos humanos, evaporam-se os mais básicos princípios deontológicos e as mais elementares normas éticas de uma profissão que é essencial para a dignidade de qualquer ser humano, sob qualquer sistema político e em qualquer lugar do mundo. O martírio de Assange é relatado e desmontado apenas por jornalistas e comentadores submetidos a uma espécie de clandestinidade mediática, barrados pelo muro espesso de silêncio, manipulação e mentira montado pelos proprietários dos meios de informação dominantes e alimentado pelas suas hierarquias de mercenários. Em termos formais, o que está em causa no julgamento do fundador do website WikiLeaks em Londres é um pedido de extradição apresentado pela justiça norte-americana para que Assange venha a ser julgado nos Estados Unidos por uma panóplia de supostos crimes, os mais sonantes dos quais são a espionagem e a conspiração. A seriedade do processo é tal que a sentença do julgamento em território norte-americano é conhecida por antecipação: 175 anos de reclusão. Sem dúvida, um caso de viciação em que o resultado é divulgado antes de se iniciar o jogo. «Tal como o silêncio do sistema mediático corporativo enxovalha o jornalismo, a criação e funcionamento do tribunal de Londres para julgar o pedido de extradição de Assange deixa de rastos o conceito de justiça» Na prática, estamos perante a um assalto vingativo contra alguém que expôs os crimes e os métodos de propaganda suja praticados pelos Estados Unidos e muitos dos seus aliados – designadamente através das guerras sem fim – para gerirem a pretendida globalização imperial e neoliberal; e testemunhamos um assalto desapiedado contra a liberdade de informação através da intimidação dos jornalistas que levam a sério o seu ofício, doa a quem doer. O julgamento do pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos é mais uma etapa de um caminho repleto de atrocidades processuais contra Assange, a começar por um caso de alegado assédio sexual praticado na Suécia e que foi – como está hoje provado – totalmente montado pela polícia sueca, certamente não apenas por iniciativa própria. Um percurso que prosseguiu com o penoso refúgio de anos na Embaixada do Equador em Londres, a traição do governo deste país chefiado pelo colaborador da CIA Lenin Moreno e o posterior internamento, em condições insalubres, na prisão de Belmarsh na capital britânica, por suposta falta a uma audiência de um tribunal. Uma prisão onde Julian Assange é submetido a «tortura psicológica», como denunciou o relator especial das Nações Unidas sobre a tortura, Nils Metzer – sem que isso tenha sido suficiente para soltar a verve do secretário-geral da organização sobre a gravidade do assunto. «Assange não é jornalista», alegam mercenários da propaganda dominante como pretexto para se eximirem à solidariedade corporativa que lhes assentaria muito bem em termos de hipocrisia mas os forçaria a abordar segundo perspectivas mais objectivas a mascarada de justiça que acontece em Londres. Ser ou não ser jornalista levar-nos-ia muito longe, não sendo esta a questão de fundo do que está em causa. «O que melhor traduz, porém, a hipocrisia e o oportunismo da comunicação corporativa em relação ao papel jornalístico de Julian Assange é [que] usaram, abusaram e lucraram das mensagens a que tiveram acesso sem qualquer esforço e depois, como agora é evidente, traíram vergonhosamente o mensageiro» Julian Assange é fundador e director de WikiLeaks, um website jornalístico com matérias editadas, designadamente para omitir identificações que deixariam pessoas à mercê de eventuais consequências do seu envolvimento em casos reproduzidos pela publicação. Parte da acusação bastante fluida construída pelos Estados Unidos para o processo de extradição tem falsamente a ver com isso: a publicação de materiais resultantes de fugas de informação de organismos públicos prejudicaria funcionários inocentes. No tribunal, porém, os advogados de acusação não conseguiram ainda dar um único exemplo da utilização indevida por WikiLeaks de identificações de pessoas associadas aos documentos. Julian Assange foi agraciado, entretanto, com prémios jornalísticos atribuídos por diversas entidades de múltiplas nacionalidades – o que o coloca inquestionavelmente na área de intervenção do jornalismo. O que melhor traduz, porém, a hipocrisia e o oportunismo da comunicação corporativa em relação ao papel jornalístico de Julian Assange é o facto de os meios de informação dominantes ditos «de referência», sem excepção, terem reproduzido, com absoluta confiança, matérias divulgadas por WikiLeaks e que deixaram a galáxia de poder global bastante comprometida. Esses meios cumpriram parcialmente o seu dever recorrendo a WikiLeaks como fonte fidedigna. Isto é, usaram, abusaram e lucraram das mensagens a que tiveram acesso sem qualquer esforço e depois, como agora é evidente, traíram vergonhosamente o mensageiro. Na prática, os New York Times ou Washington Post, os El País, Le Monde, Spiegel, BBC, Sky, Reuters, AFP, CBS, CNN e correlativos não tiveram qualquer pudor e reticência em recorrer ao WikiLeaks de Assange como acervo de fontes acima de quaisquer suspeitas mas agora silenciam uma estratégia de linchamento assumida pelas castas dominantes que pretende punir, tornar ilegítimas e silenciar essas riquíssimas fontes de jornalismo livre. Tal como o silêncio do sistema mediático corporativo enxovalha o jornalismo, a criação e funcionamento do tribunal de Londres para julgar o pedido de extradição de Assange deixa de rastos o conceito de justiça. «as figuras coroadas da chamada «civilização ocidental» preparam-se para enclausurar alguém que simboliza o jornalismo livre e, por isso, naturalmente incómodo. Pretendem isolá-lo numa pequena cela por um horizonte temporal de 175 anos e deitar a chave hora – afinal uma variante agravada e sádica da simples pena de morte» O modo como se processa o «julgamento» é aberrante em termos de desequilíbrio entre acusação e defesa, o processo foi instruído por uma juíza, Emma Arbuthnot, carregada de incompatibilidades – por exemplo, o marido é membro de um grupo de pressão do governo dos Estados Unidos –, Julian Assange está forçado ao silêncio absoluto, segregado numa jaula de vidro blindado. Fica claramente explicado que, para o regime de tendência global, um bom jornalista livre é um jornalista enjaulado e calado. Além disso, os advogados de defesa não podem utilizar mensagens de Assange na sua argumentação, sob pena de serem, eles próprios, criminalizados. Acresce que a defesa não teve acesso ao teor das acusações, que vão variando com o andamento do «julgamento», e os juízes rejeitaram todos os pedidos de adiamento, impedindo que os advogados de Assange pudessem adaptar a sua estratégia ao aparecimento de dados novos. Nada mais existe do que um arremedo de justiça como caminho para a sentença pré-estabelecida: a extradição do fundador de WikiLeaks para os Estados Unidos e para a morte lenta. Trata-se de tentar cobrir com um invólucro de «justiça» a vingança e a punição letal contra o homem que, sem cometer ilegalidades, recorrendo apenas à divulgação de informação qualificada que lhe foi cedida por fontes de dentro do sistema, desvendou os crimes e os métodos arbitrários e violentos usados pela elite dominante em nome do monopólio da «democracia» e dos «direitos humanos». Entretanto chegou ao tribunal londrino a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria disposto a «perdoar» a Assange caso este identificasse a fonte das informações obtidas no interior do Partido Democrata e que, por exemplo, deixaram a ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial, Hillary Clinton, atolada num muito comprometedor pântano de emails. Com esta manobra Trump quererá provar que a fonte pertence ao próprio Partido Democrata; e a Comissão Nacional deste partido continua a argumentar que as informações divulgadas por WikiLeaks foram fabricadas pelos serviços secretos russos. Uma trica doméstica em tempos eleitorais. Ora o que tem isto a ver com justiça? Os acontecimentos vêm confirmar que o processo em torno de Assange não passa de política, uma política reles, perigosa e criminosa. Isto é, o presidente dos Estados Unidos pode passar por cima do tribunal de Londres, do processo instruído e outorgar «perdão» a um réu a ser julgado noutro país desde que este quebre uma norma básica do jornalismo que ainda o é: manter o anonimato das fontes. Se alguma coisa tem a ver com justiça neste processo, é apenas com uma arbitrária justiça imperial. Entretanto, praticamente sem que o mundo se aperceba disso e com a cumplicidade daqueles que usurparam e desmantelaram o nobre ofício de jornalista, as figuras coroadas da chamada «civilização ocidental» preparam-se para enclausurar alguém que simboliza o jornalismo livre e, por isso, naturalmente incómodo. Pretendem isolá-lo numa pequena cela por um horizonte temporal de 175 anos e deitar a chave hora – afinal uma variante agravada e sádica da simples pena de morte. Os jornalistas livres e independentes e os cidadãos em geral considerem-se avisados. José Goulão, Exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
Assange e a miséria do jornalismo

Vingança e intimidação
Jornalismo e oportunismo
Paródia de justiça e baixa política
Contribui para uma boa ideia
Caem sucessivamente por terra todas as normas de respeito por civis em situações de guerra, atropelando a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, no seu artigo 19.º, determina que «todo o indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito a não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias através de qualquer meio de expressão».
Tal como as leis que, Estado após Estado, deveriam assegurar direitos aos jornalistas, também esta declaração universal é agora letra morta.
A reacção de organizações e associações nacionais e internacionais de jornalistas está longe de corresponder à magnitude da catástrofe sob os seus olhos; não vai além de «lamentos», expressões de solidariedade vazias de conteúdo e sem equivalência prática susceptível, em contexto profissional, de ter repercussões constrangedoras para os responsáveis pela violência contra os jornalistas e o jornalismo.
As organizações de jornalistas europeus demonstram, na generalidade das suas reacções perante a violência contra a profissão, uma tendência para o alinhamento com as posições governamentais e da União Europeia em relação, por exemplo, aos conflitos na Ucrânia e na Palestina. Pedem tanto a Israel como ao Hamas que «poupem civis», como se tudo tivesse apenas que ver com o 7 de Outubro e os ataques aos direitos dos palestinianos não se arrastem há mais de 75 anos. Este equilíbrio virtual entre algozes e vítimas é próprio de governos cúmplices dos autores dos massacres e deixa pelas ruas da amargura a independência e a coragem que devem guiar os jornalistas.
Gideon Levy, um destemido jornalista israelita do diário Haaretz, que não tem vida fácil em função do seu profissionalismo desassombrado, escreveu há dias: «11500 crianças mortas em Gaza. O horror nesta escala não tem qualquer justificação». E desafiou os seus leitores, desassossegando-os: «dão-se conta da extensão desta monstruosidade?» Gideon Levy confronta assim os carrascos de milhares de inocentes indefesos bem no coração dos seus domínios. O jornalismo e os cidadãos do chamado mundo ocidental só teriam a ganhar se este exemplo não correspondesse a um caso fortuito.
De acordo com as Forças Armadas Ucranianas, os jornalistas da CNN e Sky News não terão esperado pela «estabilização» da cidade, divulgando, inadvertidamente, saudações nazis e pessoas amarradas a postes. «Recentemente, alguns representantes de meios de comunicação social, ignorando as proibições e avisos existentes, sem o acordo dos comandantes e dos serviços de assuntos públicos das unidades militares, desenvolveram actividades profissionais na cidade de Kherson antes da conclusão das medidas de estabilização», denuncia, em comunicado publicado nas redes sociais, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Assinalando, nas suas redes sociais, o Dia da Vitória sobre o nazi-fascismo, Volodymyr Zelesnky partilhou a fotografia de um soldado ucraniano com a insígnia Totenkopf, usada pelas SS entre 1934 e 1945. «Convém mas é não confundir género humano com o Manuel Germano», advertia o escritor Mário de Carvalho. Neste caso, é importante não confundir estas tristes exibições com a justa solidariedade com o povo ucraniano. É incauta a defesa de um regime, liderado por Volodymyr Zelensky que, na semana passada, aproveitando o estado de guerra, avançou com a proibição dos partidos políticos da oposição. A denúncia partiu da CTV National News, um dos maiores órgãos de comunicação social do Canadá. Reportagens publicadas ao longo dos últimos anos demonstram o apoio dado aos neo-nazis do batalhão Azov. Várias investigações levadas a cabo por alguns dos mais importantes órgãos de comunicação do Canadá, publicadas ainda antes da invasão russa, alertavam para a presença de elementos de extrema-direita nas acções de treino do exército canadiano na Ucrânia. Ignorando as denúncias, o Canadá persistiu no apoio, formação militar e financiamento desses movimentos. Em Outubro de 2021, a CTV National News dirigiu um pedido de informação ao exército canadiano, após a divulgação de mais um relatório alertando para sucessivos casos em que extremistas ucranianos se gabavam do treino e apoio concedido por forças canadianas. A «acção humanitária 1143», liderada pelo neonazi Mário Machado, cumpriu o seu propósito de integrar elementos da extrema-direita nos «meios de defesa» da Ucrânia, confirma o seu advogado. José Manuel Castro, advogado do neonazi Mário Machado, garantiu que este regressa a Portugal na sexta-feira, ficando sem efeito o recurso interposto pelo Ministério Público. Em declarações à agência Lusa, o advogado assegura que Mário Machado não chegou a combater durante a semana que passou em território ucraniano, limitando-se à entrega de medicamentos e à recolha de alguns refugiados, que serão transportados até à Alemanha. Onde se explica o que vão fazer os neonazis à Ucrânia e qual é a guerra de propaganda em que eles estão implicados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) garantiu, esta semana, ao semanário Expresso, que foi informado da situação de sete portugueses que foram combater para a Ucrânia, contra a invasão russa. Entretanto, cinco já desistiram de o fazer e estão de volta a casa. O MNE revela, numa resposta escrita a esse semanário, que «tem registo de sete cidadãos nacionais (dois deles luso-ucranianos) que contactaram os seus serviços informando da sua deslocação para a Ucrânia a título de combatente voluntário. Os cinco cidadãos portugueses manifestaram, entretanto, vontade de abandonar o território ucraniano, o que já estarão a fazer.» Apesar dessas rápidas desistências – após o bombardeamento russo da base onde estavam acantonados os combatentes estrangeiros – , mais portugueses são esperados na Ucrânia. No dia 20 de Março, terá partido um grupo de vinte pessoas, oito delas com o objectivo de se juntar a uma milícia neonazi ucraniana que se encontra em Lviv. O Expresso garante não ser o Batalhão Azov, o mais poderoso grupo armado ucraniano, com mais de quatro mil combatentes no início da guerra, perfilhando uma ideologia neonazi. O grupo é liderado pelo neonazi Mário Machado, que lamentou publicamente não poder ficar mais do que quinze dias na Ucrânia, entre ida e volta e estadia, pois está obrigado a apresentar-se quinzenalmente numa esquadra, dado estar com termo de identidade e residência, por mais um processo criminal que tem às costas [Na sexta-feira, depois deste artigo ser escrito, ficou-se a saber que um juiz preocupado, com tanta viagem em pouco tempo, permitiu-lhe não se apresentar na PSP, enquanto estiver na Ucrânia]. O AbrilAbril enviou várias perguntas para o Gabinete do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), ao cuidado do seu secretário-geral, Paulo Vizeu Pinheiro: «Em várias notícias e redes sociais, elementos neonazis ligados ao grupo de Mário Machado afirmam que vão sete pessoas combater na Ucrânia. Queria saber se o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna tem alguma preocupação a esse respeito e como encara o facto de neonazis cadastrados ganharem experiência militar e poderem-na utilizar quando regressarem a Portugal». «É verdade que a causa da independência da Ucrânia é bastante mais nobre que a do Califado do Daesh, mas não deixam de ser extremistas cadastrados a ganharem experiência a matar pessoas». «Em outros países, como o Reino Unido, o governo colocou entraves à deslocação de pessoas e de ex-militares para combater na Ucrânia, em Portugal vai ser feito alguma coisa nesse sentido»? «A actividade, nesse país, dessas pessoas será alvo de particular atenção? Serão tomadas medidas de segurança depois do seu eventual regresso?». Até agora, a missiva não mereceu nenhuma atenção dos responsáveis de segurança de Portugal. Há pouco tempo, o Batalhão Azov começou a recrutar nos canais de propaganda, em língua portuguesa, na rede social Telegram. Com as bandeiras de Portugal e do Brasil no cimo do texto, os nazis ucranianos dão conselhos sobre as rotas mais seguras para os voluntários chegarem a Lviv ou a Kiev, bem como as zonas a evitar por causa do risco de emboscadas de tropas russas. «Se tiver o seu próprio equipamento, como equipamentos de primeiros socorros, capacetes, roupas militares, equipamentos militares, sacos de dormir, almofadas para dormir, armamento, leve consigo também», escrevem. «Olá, pode por favor reencaminhar uma mensagem uma vez que dois de nós estamos a tentar obter uma partilha de carro da Alemanha para a Ucrânia», lê-se numa mensagem de 26 de Fevereiro reencaminhada para um popular canal web neonazi, citado num texto do Washington Post. «Somos três franceses, partimos amanhã de manhã de Estrasburgo com o nosso carro», respondeu outra mensagem. «Há lugar para dois lutadores alemães». Estes são os tipos de conversas que têm inundado todos os dias os locais neonazis ocidentais e neo-supremacistas brancos online desde que Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia: utilizadores a organizar carpools, a conspirar como atravessar a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia para se juntarem à luta contra a Rússia. Alguns neonazis vêem esta nova guerra como um lugar para realizarem as suas fantasias violentas e ganharem experiência de combate e contactos para usar nos seus países. «Para outros, a força que os puxa para o conflito é uma visão partilhada para um etno-estado ultra-nacionalista. Vêem a Ucrânia como uma oportunidade de ouro para perseguir este objectivo e transformá-la num modelo para exportar para todo o mundo.», conclui Rita Katz, directora executiva do SITE Intelligence Group e uma analista de terrorismo, num texto publicado no diário norte-americano Washington Post. Como escreveu o administrador de um popular grupo de conversação neonazi alemão e inglês, enquanto exortava os membros a juntarem-se ao Azov, «Não estou a defender a Ucrânia, estou a defender o nacional-socialismo». «De qualquer forma, quando chegar à Ucrânia, vou matar judeus sempre que os vir», garantiu um neonazi inglês com experiência no exército, que se identifica como D. «Vou juntar o meu equipamento, saudar Hitler, glória à Ucrânia e vamos todos matar alguns judeus para Wotan!» (Wotan é um deus da mitologia nórdica, a que muitos extremistas de extrema-direita apelam na sua retórica e estética). D. indicou mais tarde que tinha formado um «grupo do Reino Unido» para se dirigir para a Ucrânia. Os militantes foram recrutados por grupos como o Batalhão Azov, absorvido pela guarda nacional ucraniana em 2014. Esse batalhão tem acolhido abertamente os ocidentais nas suas fileiras através de sites supremacistas brancos. Foram vistos autocolantes e símbolos do Batalhão Azov um pouco por todo o mundo: numa manifestação neonazi em Julho de 2020, no Tennessee, e na moto usada numa tentativa de ataque à bomba de uma mesquita em Itália. De acordo com os dados de um estudo do Soufan Center, organização não-governamental que estuda o fenómeno dos extremismos, pelo menos quatro mil voluntários estrangeiros fizeram parte desta milícia ucraniana, havendo o registo de um português que já combateu nas fileiras do Batalhão Azov entre 2014 e 2019. O número poderá até ser um pouco maior, de acordo com reportagens recentes, como a do jornalista Ricardo Cabral Fernandes no Público. E há uma ligação umbilical entre movimentos da extrema-direita portuguesa com estes ucranianos, com a realização de seminários e torneios de artes marciais tanto em Portugal como na Ucrânia nos últimos anos. Em 2019, o Soufan Center, que segue grupos terroristas e extremistas em todo o mundo, advertiu: «O Batalhão Azov está a emergir como um nó crítico na rede extremista transnacional de extrema-direita violenta. ... [A sua] abordagem agressiva ao trabalho em rede serve um dos objectivos globais do Batalhão Azov, de transformar as áreas sob o seu controlo na Ucrânia no centro principal da supremacia branca transnacional». O Soufan Center descreveu como a «rede agressiva» do Batalhão Azov chega a todo o mundo para recrutar combatentes e espalhar a sua ideologia de supremacia branca. Os combatentes estrangeiros que treinam e lutam com o Batalhão Azov regressam depois aos seus próprios países para aplicar o que aprenderam e recrutar outros. Os extremistas estrangeiros violentos com ligações a Azov incluíram Brenton Tarrant, que massacrou 51 muçulmanos em duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, em 2019, e vários membros do Movimento «Rise Above Movement» dos EUA, que foram processados por atacarem pessoas que participavam no comício «Unite the Right» em Charlottesville, em Agosto de 2017. Outros veteranos de Azov regressaram à Austrália, Brasil, Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, Reino Unido, Portugal e outros países. Para os mais extremistas entre estes neonazis, o plano é ainda mais sinistro. Eles vêem a Ucrânia como uma oportunidade para promover uma agenda «acelerista», que procura apressar um colapso de toda a civilização e depois construir estados étnicos fascistas a partir das cinzas. O SITE Intelligence Group, organização que estuda a actividade da extrema-direita nas redes sociais, denuncia uma série de publicações de uma das vozes neonazis aceleracionistas mais influentes da extrema-direita, «o eslovaco», que estaria implicado na guerra da Ucrânia. A 25 de Fevereiro, «o eslovaco» anunciou que estava a deixar um país desconhecido para lutar na Ucrânia. «Esta guerra vai queimar a fraqueza física e moral do nosso povo, para que uma nação forte possa levantar-se das cinzas», escreveu. «A nossa tarefa é assegurar que as condições permaneçam terríveis o suficiente, por tempo suficiente, para que esta transformação aconteça, e deve acontecer. O nosso futuro está em jogo e podemos não ter outra oportunidade, certamente não uma tão boa como esta». Em muitos aspectos, a situação da Ucrânia lembra a Síria. Tal como o conflito sírio serviu de terreno fértil para grupos como a al-Qaeda e o Estado islâmico, condições semelhantes podem estar a fermentar na Ucrânia para a extrema-direita. A Síria tornou-se um terreno de conspiração e treino para os terroristas montarem ataques no Ocidente, tais como os ataques em Paris em 2015 e em Bruxelas em 2016. Os extremistas que conseguirem chegar à Ucrânia poderão regressar a casa com novas armas e experiência de combate – ou permanecer na Ucrânia, onde poderão influenciar ainda mais os seus compatriotas online. Só porque os extremistas estão «noutro lugar», não os torna menos perigosos para os países de onde vêm. «Não tenho nada contra os nacionalistas russos, ou contra uma grande Rússia», disse Dmitry, ao repórter Shaun Walker do diário britânico The Guardian, enquanto acelerávamos pela noite escura de Mariupol numa pick-up, uma metralhadora posicionada na parte de trás. «Mas Putin nem sequer é um russo. Putin é um judeu». A reportagem datada de 2014, acompanhou a reconquista de Mariupol pelos neonazis. Dmitry – que disse não ser o seu verdadeiro nome – é natural da Ucrânia Oriental e membro do Batalhão Azov, que tem feito grande parte da linha da frente na guerra da Ucrânia com separatistas pró-Rússia. Dmitry afirmou não ser um nazi, mas confessa-se admirador Adolf Hitler como líder militar, e acredita que o Holocausto nunca aconteceu. Nem todos no batalhão Azov pensam como Dmitry, mas depois de ter falado com dezenas dos seus combatentes e de ter participado em várias missões durante a semana passada na cidade estratégica portuária de Mariupol e arredores, o The Guardian encontrou, em muitos deles, opiniões políticas perturbadoras, quase todos com a intenção de «trazer a luta para Kiev» quando a guerra no leste acabar. O símbolo do batalhão é igual ao Wolfsangel nazi, que encimava os batalhões SS ucranianos, embora fonte oficial do batalhão garante que, de facto, é suposto ser a letra N, representando uma «ideia nacional». Muitos dos seus membros têm ligações com grupos neonazis, e mesmo aqueles que se riram da ideia de que são neonazis não deram as negações mais convincentes. «Claro que não, é tudo inventado, há apenas muitas pessoas que estão interessadas na mitologia nórdica», disse um combatente quando interrogado se havia neonazis no batalhão. Quando lhe perguntaram quais eram as suas próprias opiniões políticas, contudo, ele respondeu «nacional-socialista». Quanto às tatuagens da suástica vistas em homens na base de Azov, corrigiu: «a suástica nada tem a ver com os nazis, era um antigo símbolo do sol». O Batalhão Azov tem suas origem numa grupo claque ultra do clube de futebol FC Metalist Kharkiv chamado «Sect 82» (1982 é o ano de fundação do grupo). No final de Fevereiro de 2014, durante a crise ucraniana de 2014, ajudou a reprimir manifestações pró-russas em Kharkiv, o «Sect 82» ocupou o prédio da administração da Oblast [região] em Kharkiv e serviu como uma força de «autodefesa» local. Em 13 de Abril de 2014, o ministro de Assuntos Internos, Arsen Avakov, emitiu um decreto autorizando a criação de novas forças paramilitares de até 12 mil pessoas. O Batalhão Azov foi formado em 5 de Maio de 2014, em Berdiansk. O batalhão começou a actuar em Mariupol, onde esteve envolvido em combates, tendo sido determinante na reconquista da cidade aos separatistas russos, na segunda batalha por essa cidade. Em relação ao cessar-fogo acordado em 5 de Setembro, o líder do grupo, Biletskiy, declarou: «Se foi um movimento táctico, não há nada de errado com isso. Se é uma tentativa de chegar a um acordo sobre o solo ucraniano com separatistas, obviamente é uma traição». A ocupação de Mariupol e a acções do Batalhão Azov e de outras forças neonazis, desde aí, não foi pacífica. Já em 2014, a Amnistia Internacional apelou ao governo ucraniano para investigar abusos de direitos e possíveis execuções por parte dos batalhões neonazis Aidar e Azov. «A incapacidade de pôr fim aos abusos e possíveis crimes de guerra por parte dos batalhões voluntários corre o risco de agravar significativamente as tensões no leste do país e minar as intenções proclamadas das novas autoridades ucranianas de reforçar e defender o Estado de direito de forma mais ampla», disse, o na altura, Salil Shetty, Secretário-Geral da Amnistia Internacional, em Kiev. Segundo um relatório da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) que monitorizava o cumprimento do cessar-fogo entre ucranianos e separatistas, datado de 2015, as forças de segurança ucranianas e as unidades neonazis estavam envolvidas em práticas generalizadas de tortura aos prisioneiros e população suspeita de ter simpatias pelos separatistas russos. «Os prisioneiros foram electrocutados, espancados cruelmente ao longo de vários dias com diferentes objectos (barras de ferro, bastões de basebol, bastões, espingardas, espingardas, beatas, facas de baioneta, bastões de borracha). Técnicas amplamente utilizadas pelas forças armadas ucranianas e pela segurança forças incluem o waterboarding, o estrangulamento com um «garrote banderista» e outros tipos de estrangulamento. Em alguns casos, os prisioneiros, para fins de intimidação, foram enviados a campos minados e atropelados com veículos militares, matando-os. Outros métodos de tortura utilizados pelas forças armadas ucranianas e as forças de segurança incluem o esmagamento de ossos, esfaqueamento e corte com uma faca, marcas com objectos incandescentes, e disparos contra partes do corpo com armas de pequeno calibre». No relatório, do Gabinete das Nações Unidas Alto Comissário para os Direitos Humanos, «Violência Sexual Relacionada com Conflitos em Ucrânia», de 2017, foram recolhidos inúmeros testemunhos da utilização, pelos serviços secretos ucranianos e dos batalhões neonazis, da violação como forma de tortura sobre civis suspeitos de simpatizarem com rebeldes pró-russos. O Presidente russo Vladimir Putin afirmou ter ordenado a invasão da Ucrânia para «desnazificar» o seu governo, enquanto funcionários ocidentais, como o antigo embaixador dos EUA em Moscovo Michael McFaul, chamaram a isto pura propaganda, insistindo: «Não há nazis na Ucrânia». No contexto da invasão russa, as relações problemáticas dos governos ucranianos pós-2014 com grupos de extrema-direita e partidos neonazis tornaram-se um elemento da guerra de propaganda, com a Rússia a usá-la como um pretexto para a guerra e o Ocidente a tentar varrê-la para debaixo do tapete. A verdade é que os neonazis foram importantes para o golpe de Estado de 2014, como foram importantes para combater os separatistas russos na Ucrânia oriental. A invasão russa, longe de desnazificar a Ucrânia, é susceptível de espalhar neonazis treinados por vários países. O Partido neonazi Svoboda, da Ucrânia, e os seus fundadores, Oleh Tyahnybok e Andriy Parubiy, desempenharam papéis de liderança no golpe apoiado pelos EUA em Fevereiro de 2014. A secretária de Estado adjunta, Victoria Nuland, e o embaixador dos EUA, Geoffrey Pyatt, mencionaram Tyahnybok como um dos líderes com quem estavam a trabalhar antes do golpe de Estado. Nunca se saberá quão diferente teria sido o novo governo da Ucrânia se um processo político pacífico tivesse sido autorizado a seguir o seu curso sem a interferência dos EUA ou de extremistas violentos de direita. Mas foram os neonazis que subiram ao palco na praça Maidan e rejeitaram o acordo de 21 de Fevereiro de 2014 negociado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros francês, alemão e polaco, segundo o qual o Presidente Viktor Yanukovych e os líderes políticos da oposição concordaram em realizar novas eleições no final desse ano. Em vez disso, Yarosh e o sector de direita recusaram-se a desarmar e lideraram a marcha sobre o Parlamento que derrubou o governo. Desde 1991, as eleições ucranianas tinham oscilado entre líderes como Yanukovych, que era de Donetsk e tinha laços estreitos com a Rússia, e líderes apoiados pelo Ocidente, como o Presidente Viktor Yushchenko, que foi eleito em 2005 após a «Revolução Laranja», a que se seguiu a uma eleição disputada. A corrupção endémica da Ucrânia manchou todos os governos, e a rápida desilusão pública com qualquer líder e partido que ganhasse o poder levou a um equilíbrio e alternância entre as facções alinhadas pelo Ocidente e pela Rússia. Em 2014, Nuland e o Departamento de Estado conseguiram que o seu favorito, Arseniy Yatsenyuk, se instalasse como primeiro-ministro do governo pós-golpe de Estado. Durou dois anos até que também ele perdesse o cargo devido a um sem fim de escândalos de corrupção. Petro Poroshenko, o Presidente que se seguiu, durou um pouco mais, até 2019, mesmo depois dos seus esquemas pessoais de evasão fiscal terem sido expostos nos Panama Papers de 2016 e nos Paradise Papers de 2017. Quando Yatsenyuk se tornou primeiro-ministro, recompensou o papel do Svoboda no golpe com três cargos de gabinete, incluindo Oleksander Sych como vice-primeiro-ministro, e governadores de três das 25 províncias da Ucrânia. Andriy Parubiy, do Svoboda, foi nomeado presidente do Parlamento, um cargo que ocupou durante os cinco anos seguintes. Tyahnybok concorreu à presidência em 2014, mas obteve apenas 1,2% dos votos, e não foi reeleito para o parlamento. Os eleitores ucranianos viraram as costas à extrema-direita nas eleições pós-eleitorais de 2014, reduzindo a quota de Svoboda de 10,4% dos votos nacionais em 2012 para 4,7%. Svoboda perdeu o apoio em áreas onde detinha o controlo dos governos locais mas não tinha cumprido as suas promessas, e o seu apoio foi dividido agora que já não era o único partido a concorrer com slogans e retórica explicitamente anti-russa. Após o golpe, a extrema-direita ajudou a consolidar a nova ordem, atacando e quebrando os protestos anti-golpistas, no que o líder do Sector Direito, Yarosh, descreveu à revista Newsweek como uma «guerra» para «limpar o país» dos manifestantes pró-russos. Esta campanha culminou a 2 de Maio com o massacre de mais de 40 manifestantes anti-golpistas queimados vivos na Casa dos Sindicatos em Odessa. Após os protestos anti-golpistas terem evoluído para declarações de independência em Donetsk e Luhansk, a extrema-direita na Ucrânia foi armada para um confronto em grande escala. Os militares ucranianos tinham pouco entusiasmo em combater o seu próprio povo, pelo que o governo formou novas unidades da Guarda Nacional, com neonazis, para o fazer. O Sector Direito formou um batalhão, e os neonazis também dominaram o Batalhão Azov, que foi fundado por Andriy Biletsky, um supremacista branco declarado que afirmava ser o objectivo nacional da Ucrânia livrar o país dos judeus e outras raças inferiores. Foi o batalhão Azov que liderou o assalto do governo pós-golpe às repúblicas auto-proclamadas e retomou a cidade de Mariupol das forças separatistas. O acordo de Minsk II, em 2015, pôs fim aos piores combates e criou uma zona tampão em torno das repúblicas separatistas, mas uma guerra civil de baixa intensidade continuou. Estima-se que tenham sido mortas 14 mil pessoas desde 2014. A representante Ro Khanna, Democrata eleita pela Califórnia, e outros membros progressistas do Congresso tentaram durante vários anos pôr fim à ajuda militar dos EUA ao Batalhão Azov. Finalmente, fizeram-no na Lei de Apropriação de Defesa de 2018, mas o Azov terá continuado a receber armas e treino dos EUA, apesar da proibição. Independentemente do sucesso decrescente de Svoboda nas eleições nacionais, grupos neo-nazis e nacionalistas extremistas, cada vez mais ligados ao Batalhão Azov, têm mantido o poder nas ruas da Ucrânia, assim como na política local, no coração nacionalista ucraniano em torno de Lviv, na Ucrânia ocidental. Após a eleição do Presidente Volodymyr Zelenskyy, em 2019, a extrema-direita ameaçou-o de destituição, ou mesmo de morte, se negociasse com líderes separatistas de Donbass e seguisse em frente com os acordos de Minsk. Zelenskyy tinha concorrido às eleições como «candidato à paz», mas sob ameaça da direita, recusou-se mesmo a falar com os líderes de Donbass, que descreveu como terroristas, como afirmam Medea Benjamin e Nicolas J.S. Davies, num artigo sobre o papel dos neonazis no conflito, publicado no site fairobserver. Durante a presidência de Trump, os EUA inverteram a proibição de Obama de vender armas à Ucrânia, e a retórica agressiva de Zelenskyy levantou receios em Donbass e na Rússia de que ele estaria a preparar as forças da Ucrânia para uma nova ofensiva para retomar Donetsk e Luhansk pela força. A guerra civil combinou-se com as políticas económicas neoliberais do governo para criar um terreno fértil para a extrema-direita. O governo pós-combatente impôs mais da mesma «terapia de choque» que foi imposta em toda a Europa de Leste nos anos 90. A Ucrânia recebeu uma ajuda de 40 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional e, como parte do acordo, privatizou 342 empresas estatais; reduziu o emprego no sector público em 20%, juntamente com cortes salariais e nas pensões; privatizou os cuidados de saúde e desinvestiu na educação pública, fechando 60% das suas universidades. Juntamente com a corrupção endémica da Ucrânia, estas políticas levaram à pilhagem de bens estatais pela classe dominante corrupta, e à queda do nível de vida e de medidas de austeridade para todos os outros. O governo pós-golpe manteve a Polónia como modelo, mas a realidade estava mais próxima da Rússia de Boris Ieltsin dos anos 90. Após uma queda de quase 25% do PIB entre 2012 e 2016, a Ucrânia é ainda o país mais pobre da Europa. Tal como noutros lugares, os fracassos do neoliberalismo alimentaram o aumento do extremismo de direita e do racismo, e agora a guerra com a Rússia promete proporcionar a milhares de jovens alienados de todo o mundo treino militar e experiência de combate, que poderão então levar para casa para aterrorizar os seus próprios países. Neste momento, os ucranianos estão unidos na sua resistência à invasão da Rússia, mas não devemos ficar surpreendidos quando a aliança dos EUA com as forças neonazis na Ucrânia, incluindo a entrega de milhares de milhões de dólares em armas sofisticadas, resultar em algo incontrolado. O silêncio não fará a extrema-direita ucraniana desaparecer de imediato. Agir como se qualquer menção ao problema alimente a propaganda do Kremlin só está a piorar a situação. Mas, enquanto fala de desnazificação, a Rússia também tem dado novos passos para fortalecer as suas fileiras com elementos ligados à extrema-direita. Desde o início da invasão russa que os mercenários do Grupo Wagner, co-fundado por Valeryevich Utkin, neonazi condecorado pelo presidente russo, e considerado o braço militar não oficial do Kremlin, têm estado presentes na guerra. O Grupo Wagner também está a recrutar através do Telegram, diz o Counter Extremism Project, citado pelo site Setenta e Quatro. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O objectivo da «acção humanitária 1143» cumpriu-se em todos os seus aspectos, com a integração de elementos do grupo de neonazis nos «meios de defesa» da Ucrânia, como os descreve José Manuel Castro. Numa publicação feita hoje, na plataforma Telegram, um serviço de mensagens online, Machado salienta alguns dos pontos mais importantes da participação do seu grupo na Ucrânia: pretendemos, «se necessário ou possível, participar na secção militar e ajudar na colocação de homens nossos no terreno», assim como «colocar a nossa área política de forma cabal e inequívoca, do lado certo da história». «Com o apoio de patriotas de todo o país, foi possível concretizar todos os quatro objectivos», afirma Mário Machado, satisfeito por ter ajudado na «colocação, em território ucraniano, de vários portugueses, luso-descendendentes e de outras nacionalidades, no domínio militar». Ao Diário de Notícias, Sergii Malyk, adido militar da Embaixada da Ucrânia em França, afirmou não ser possível integrar cidadãos estrangeiros nas milícias paramilitares em actividade no país. «Isso não é possível. Não pode juntar-se a milícia nenhuma. Não, não, isso não acontece», cita a notícia divulgada ontem. Mas a tese de que «alguém que tem os crimes mencionados no cadastro não pode entrar nas nossas forças armadas», e que «não é qualquer pessoa que pode servir o nosso país», referindo-se ao facto de Mário Machado ser neonazi, cai por terra com a integração de outros elementos nacionalistas e racistas do mesmo grupo. Vários destes indivíduos, pertencentes ao movimento nacionalista, de supremacia branca, de Machado, já se encontram, neste momento, perfeitamente integrados nas milícias ucranianas: «consegui entrar nesse país, completamente despercebido, e fui ter com patriotas portugueses, ucranianos, ingleses, alemães e espanhóis que me deram todo o apoio», descreve o próprio. Mário Machado reforça que «sempre, desde o início, deixou bem claro no áudio disponível no meu canal que não iria combater pela Legião Internacional». A Assembleia Geral da ONU aprovou, de forma esmagadora, uma resolução que a Rússia apresenta há vários anos contra a «glorificação do Nazismo», que não voltou a contar com o apoio dos países da NATO. Por iniciativa da Rússia, a resolução «Combater a glorificação do Nazismo, Neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada» foi aprovada esta quarta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, com 130 votos a favor, dois votos contra (EUA e Ucrânia) e 51 abstenções (incluindo a de Portugal, de todos os estados-membros da União Europeia e outros países «sérios», como o Reino Unido, que definem o que são eleições «sérias» ou «direitos humanos», e decretam sanções contra «países não sérios»). A resolução apela aos estados membros da ONU para que aprovem legislação para «eliminar todas as formas de discriminação racial» e expressa «profunda preocupação sobre a glorificação, sob qualquer forma, do movimento nazi, do neonazismo e de antigos membros da organização Waffen-SS». Neste sentido, refere-se à construção de monumentos e memoriais, bem como à celebração de manifestações públicas em nome da glorificação do passado nazi, do movimento nazi e do neonazismo. Os apoiantes da resolução mostram-se preocupados com «as tentativas cada vez mais frequentes de profanar ou demolir monumentos erigidos em memória daqueles que combateram o nazismo na Segunda Guerra Mundial, bem como de exumar ou remover os restos mortais dessas pessoas», informa a agência TASS. O texto da resolução destaca também o alarme da Assembleia Geral das Nações Unidas perante «a utilização das tecnologias de informação, da Internet e das redes sociais, por grupos neonazis, bem como outros grupos extremistas e indivíduos que defendem ideologias de ódio, para recrutar novos membros, visando em especial crianças e jovens». A Assembleia Geral, refere a TASS, recomenda aos estados que «tomem as medidas concretas apropriadas, incluindo legislativas e educativas (...) para evitar o revisionismo sobre a Segunda Guerra Mundial e a negação de crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na Segunda Guerra Mundial». A representação diplomática dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, refere a RT, lembrou que vota repetidamente contra a resolução russa, todos os anos, porque se trata de um documento bem conhecido pelas suas tentativas de legitimar as «narrativas de desinformação russa», que «denigrem os países vizinhos sob a aparência cínica de travar a glorificação do nazismo». Para além disso, afirmou que a resolução é contrária ao «direito de liberdade de expressão», a que também os «nazis confessos» têm direito, tal como estipulado pelo Supremo Tribunal dos EUA. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No dia em que era noticiada a suposta proibição da sua entrada no país em guerra, o militante neonazi divulgou algumas imagens da sua actividade na Ucrânia através do seu grupo no Telegram. Também na passada quinta-feira, Machado partilhou fotos de milicianas ucranianas a posar, armadas, com símbolos nazis (suásticas e o sol negro, usadas pelas SS) e t-shirts com inscrições supremacistas (White Pride/Worldwide; Orgulho Branco/em todo o mundo), com o comentário «Raparigas brancas lutarão!». Noutra publicação, no mesmo dia, afirmava: «Não se preocupem traidores, quando o dia chegar, também aí estarão lado a lado com os militantes do PCP e BE na fila para o cadafalso» (palanque em que é montada a forca). «Em sentido figurado, claro», acrescenta no final da mensagem, editada horas depois da publicação. Num dos «canais de referência para quem quiser obter mais informações sobre o conflito Rússia vs. Ucrânia», disponibilizados pelo próprio, todos repletos de iconografia supremacista, é publicado um texto de um membro americano do Batalhão Azov, conhecido por Kent. Para além de assumir a relação que este batalhão neonazi mantém com a NATO, «estritamente por questões de realpolitik e uma tolerância temporária entre os dois lados devido a um inimigo comum», Kent afirma que muitos «nacional-socialistas ucranianos já só querem sangue e a cabeça de judeu do Zelensky enfiado num espeto». A pretexto da lei marcial, Zelensky proibiu hoje 11 partidos políticos, do centro à esquerda, na Ucrânia, incluindo o maior da oposição. A extrema-direita, por seu lado, não vê qualquer restrição à sua actividade. «Primeiro vieram buscar os comunistas (...)», lembrava Bertolt Brecht, e agora, por fim, levam o que restava do centro/centro-esquerda ucraniano. O processo de «descomunização», em marcha desde 2015, que resultou na ilegalização e perseguição do Partido Comunista da Ucrânia, aproveita o contexto da guerra para afastar os restantes rostos da oposição anti-NATO/anti-corrupção ao governo de Zelensky. Sob pretexto de se tratarem de partidos «pró-russos», uma narrativa rapidamente adoptada pelos meios de comunicação ocidentais, 11 partidos, com ou sem assento parlamentar, foram impedidos de exercer a sua função principal numa democracia: exercer a representação política dos seus eleitores e militantes. O Ministério da Justiça terá agora de «tomar imediatamente medidas abrangentes para proibir as actividades desses partidos políticos». A explicação dada pelo presidente ucraniano, numa declaração proferida hoje, 20 de Março, na qual anuncia o prolongamento da lei marcial por um novo período de 30 dias, falha na prova dos factos. Muitos destes partidos, acusados de pró-russos, participam activamente na defesa da Ucrânia. Há pouca margem para interpretar esta acção que não seja a de afastar o que resta da oposição ao seu mandato, e aos interesses que ele serve. A Plataforma de Oposição - Pela Vida, que nas eleições parlamentares de 2019 ficou em segundo lugar, com 13,05% dos votos e 43 assentos no parlamento, não só denunciou publicamente a invasão da Rússia, chegando mesmo a expulsar um deputado por não o fazer e remover um vice-presidente com ligações a Vladimir Putin, como incitou à participação nas milícias de defesa do país. Nada impediu a suspensão. No caso do Socialistas, trata-se de um pequeno partido político pró-União Europeia [ver foto em caixa] que defende a reintegração da Crimeia na Ucrânia, ao mesmo tempo que defende a nacionalização de vários importantes sectores da economia ucraniana e o combate à corrupção nas instituições governamentais. O verdadeiro crime destas formações políticas, algumas com quase 30 anos de actividade, foi, em alguns casos, continuarem a defender posições anti-NATO ou representarem as populações russófilas do país, enquanto outros, apoiantes do projecto europeu, se limitam a defender uma solução pacífica para o conflito no Donbass e se opõem aos ímpetos privatizadores do governo de Zelensky. O projecto iniciado em Maidan, em 2014/15, concluiu finalmente uma das suas principais ambições políticas: afastar todos os grupos partidários que contestem a hegemonia dos interesses económicos norte-americanos na Ucrânia. Para além da Plataforma de Oposição - Pela Vida, também os partidos Sharia, Nosso, Bloco de Oposição, Oposição de Esquerda, União das Forças de Esquerda, Estado, Partido Socialista Progressista da Ucrânia, Partido Socialista, Socialistas e Bloco de Volodymyr Saldo, foram suspensos. A necessidade de uma «política de informação unificada» levou Zelensky a assinar um decreto que funde todos os canais de informação, públicos e privados, num único órgão informativo, sob gestão da presidência da república da Ucrânia. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A posição do batalhão em relação a Israel é desmentida por Kent, que colabora com o Azov desde 2014 (quando se deu Maidan): O que Andriy Biletsky, fundador do batalhão e membro do parlamento ucraniano entre 2014 e 2019, quis dizer com o apoio a Israel é que este é um «etno-estado». «Lendo nas entrelinhas, é óbvio que é isso que ele quer que a Ucrânia seja: um etno-estado». Mário Machado partilha muitas das desconfianças do batalhão Azov, integrado oficialmente nas forças armadas ucranianas e cujo braço político, o Svoboda (pelo qual foi eleito Biletsky), não viu qualquer restrição à sua actividade, ao contrário de todos os partidos de centro e esquerda. «Jamais estaria sobre ordens do Governo de Zelensky, porque nada o distingue de todos os outros governantes europeus», afirma, equiparando-o a Vladimir Putin. Machado foi condenado, ao longo de mais de 20 anos, pelos crimes de extorsão, sequestro, agressão, posse ilegal de armas (algumas proibidas), ofensa à integridade física qualificada (num dos casos, pelo assassinato de Alcindo Monteiro), discriminação racial e coacção agravada. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Os treinos terão ocorrido ao abrigo da operação UNIFIER, que desde Abril de 2015 apoia activamente as forças militares da Ucrânia, após o golpe de estado de 2014. Só entre 2015 e 2018, mais de dez mil efectivos ucranianos foram armados, treinados e preparados por algumas centenas de militares do Canadá. Esta operação é coordenada internacionalmente com as forças enviadas, para o mesmo efeito, pelos Estados Unidos da América, Reino Unido, Suécia, Polónia, Lituânia e Dinamarca. Em resposta à CTV National News, o exército do Canadá negou estar a par da participação de elementos extremistas, de extrema-direita ou mesmo neo-nazis, nas suas operações. Reconhecem, no entanto, não ter mandato para fazer qualquer averiguação sobre as dezenas de milhares de soldados que treinaram. É um imenso cheque em branco passado às instituições ucranianas. Uma investigação do diário Ottawa Citizen, publicada em Novembro de 2021, dá conta de vários momentos em que oficiais do exército do Canadá se encontraram com elementos do batalhão Azov. Tudo isto, apesar das conclusões da Task Force, criada especificamente para supervisionar a sua actividade na Ucrânia, alertarem para o facto de «vários membros do Azov se declararem nazis». Durante a sua intervenção no parlamento da Grécia, Zelensky mostrou um vídeo onde dois terroristas do neonazi Batalhão Azov, um deles afirmando-se de ascendência grega, se dirigiram aos deputados gregos. Os homens, que se identificaram como membros do Batalhão Azov, cujas fardas exibem como símbolo um sol negro, oriundo do ocultismo nazi alemão e que resulta da sobreposição de três cruzes suásticas, apareceram a falar aos deputados gregos num vídeo mostrado pelo Presidente ucraniano, durante a sua intervenção, por videoconferência, no parlamento grego. Apanhados desprevenidos, deputados gregos, na reacção ao facto de membros do neonazi Batalhão Azov, integrado pelo regime de Kiev na Guarda Nacional ucraniana, ter sido autorizado a dirigir-se-lhes, falaram mesmo em «vergonha histórica». A propósito desta tentativa de instrumentalização dos parlamentos nacionais, convém lembrar que esta quarta-feira a Assembleia da República aprovou, com o voto contra do PCP, um convite formal ao presidente Volodimyr Zelensky para intervir no parlamento português, por videoconferência. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Os encontros, promovidos e organizados pelo governo ucraniano, só vieram a público através de publicações nas redes sociais do grupo neo-nazi. Recorrendo a fotografias de soldados canadianos, o Azov legitimou o seu discurso de ódio, assinalando a disponibilidade do exército ucraniano em «continuar a desenvolver uma colaboração proveitosa» para ambos os lados. Ao Ottawa Citizen, Bernie Farber, da Rede Contra o Ódio no Canadá, lamentou o «tenebroso erro» cometido pelo exército do seu país, «é perturbante saber que o batalhão Azov vai usar canadianos para branquear a sua ideologia de extrema-direita». Segundo comunicações internas do exército canadiano, divulgadas publicamente pelo diário daquele país, a principal preocupação das forças armadas não era impedir que grupos neo-nazis voltassem a receber apoio do Canadá, mas sim evitar que a informação fosse tornada pública. A rádio pública do Canadá, Radio Canada, conseguiu identificar outras situações em que oficiais canadianos estiveram envolvidos no treino de membros do Azov, apesar da promessa assumida publicamente pelo governo de não voltar a apoiar estes grupos. Em 2020, dois anos depois dos primeiros casos identificados, foram promovidas sessões conjuntas entre o exército e o batalhão, no centro de treino da cidade de Zolochiv, na zona oeste da Ucrânia. Por esta altura, o carácter supremacista, racista e nazi do Azov, integrado na Guarda Nacional da Ucrânia, era sobejamente conhecido em todo o mundo, reiterado em numerosas reportagens e denunciado por várias organizações de direitos humanos por todo o mundo. As instituições canadianas não foram excepção. Nas redes sociais do líder de um regimento do batalhão Azov, Kyrylo Berkal, a CTV National News conseguiu identificar imagens de 2019 que mostram, uma vez mais, soldados canadianos numa sessão de formação promovida para nazis do Azov. Para além desse encontro, Berkal partilha frequentemente imagens com simbologia nazi. Face a estas informações, um porta-voz do exército do Canadá reiterou as desculpas dadas anteriormente: «todos os membros da operação UNIFIER receberam formação para identificar insígnias usadas pela extrema-direita», mas «a Ucrânia é um estado soberano a quem cabe decidir quem é aceite nas suas forças armadas». O facto de a Ucrânia integrar elementos de extrema-direita, anti-semitas, racistas, homofóbicos e neo-nazis nas suas forças armadas, não vai impedir o Canadá de continuar a dar formação a estes grupos. Para além dos 900 milhões de dólares investidos na operação UNIFIER, o Canadá continua, e vai continuar, a fornecer armas à Ucrânia, plenamente consciente (porque os treinou e o reconheceu) que um número significativo dos seus membros perfilha ideologias de ódio. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Mas poderia um povo que perdeu mais de oito milhões de vidas na batalha contra o nazismo, apoiar o nazismo?», questionava Zelensky. Se por um lado é crucial não confundir o povo ucraniano com o nazismo, é igualmente fundamental denunciar e condenar os elementos neo-nazis que pululam nas forças armadas do país. E já se vai tornando difícil ocultar a sua omnipresente existência. Até o facto de Zelensky ser judeu é um contra-argumento frequentemente utilizado para desviar a atenção de um problema sobejamente identificado desde 2014, a presença de forças neo-nazis nas forças armadas ucranianas e a existência de grupos para-militares de extrema-direita, muitos deles assumidamente nazis. Naquilo que só poderá ser, de acordo com essa narrativa, mais uma estranha coincidência, foi a vez do próprio Zelensky, Presidente da Ucrânia, partilhar a fotografia de um soldado do seu exército a usar uma insígnia nazi. A ocasião foi, curiosamente, a celebração do Dia da Vitória sobre o nazi-fascismo, data em que se comemora a rendição da Alemanha nazi em 1945. Não é a primeira vez que acontece. No dia internacional da mulher, 8 de Março, a NATO teve a mesma ideia, partilhando a fotografia de uma militar que ostentava, no peito, o Sol Negro, criado e utilizado pelas SS, a organização paramilitar do partido nazi alemão e, mais recentemente, pelo batalhão Azov. Tal como aconteceu com Zelensky, a imagem foi rapidamente apagada das redes (pode ainda ser visitada numa das páginas da internet que arquivam conteúdo), não sem antes deixar uma questão no ar: se, após a invasão, o número de forças neo-nazis integrados no exército ucraniano seria, alegadamente, residual, porque é que não param de aparecer seus elementos em fotografias oficiais das forças militares da Ucrânia? «Entre outros usos, a Totenkopf [caveira ou death's head], tornou-se o símbolo de um dos três ramos das SS: a SS-Totenkopfverbände», a unidade da caveira, refere a Liga Anti-Difamação, ADL, uma organização judaica que luta contra o anti-semitismo, com ligações ao estado israelita. A função inicial desta brigada era a de gerir os campos de concentração em funcionamento na Alemanha nazi, tendo, posteriormente, sido integrados na 3ª Divisão SS Totenkopf, conhecida pela sua brutalidade e pelos crimes de guerra cometidos contra judeus, africanos e prisioneiros de guerra. Era este mesmo símbolo, pertencente à divisão nazi, que o soldado ucraniano, partilhado por Zelensky, exibia orgulhoso na sua farda. A situação toma contornos ainda mais grotescos se tivermos em conta que o presidente da Ucrânia não só é judeu, como parte da sua família foi morta nos mesmo campos de concentração geridos pelos Totenkopf. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Todos os profissionais que cumpriram o seu dever jornalístico, retratando a entrada das tropas ucranianas na cidade de Kherson, oito meses depois da sua ocupação pelo exército russo, assim como a sua recepção por parte da população, viram as suas autorizações de trabalho «canceladas e os seus cartões de imprensa invalidados». De acordo com um artido do Pravda Ucraniano, um dos meios de comunicação social mais reputados no país, pelo menos seis jornalistas da CNN e da Sky News terão sido abrangidos por esta decisão, havendo ainda a possibilidade da proibição incluir jornalistas ucranianos. Em causa estará a divulgação de imagens que não interessam, em termos propagandísticos, à narrativa ucraninana. Em imagens transmitidas pela CNN Internacional, uma pessoa que segura a bandeira ucraniana aparenta fazer a saudação nazi. Em simultâneo, imagens partilhadas ontem pela Associated Press mostram dois supostos colaboradores atados a postes, cercados por elementos das Forças Armadas ucranianas. A poucos dias da entrada em Kherson, a NEXTA, uma organização que divulga informação sobre o leste europeu (considerada uma organização terrorista pelo Governo bielorrusso) partilhou nas redes sociais um pequeno vídeo de soldados ucranianos em Kysylivka, a apenas 15km da cidade. Na sua conta de Twitter, Oliver Alexander, um jornalista que colabora com o Telegraph, a Reuters, o Der Spiegel e o Washington Post, denuncia a iconografia nazi utilizada por soldados das Forças Armadas Ucranianas. «Embora esteja satisfeito com a libertação de Kherson, usar o emblema da brigada SS Dirlewanger não dá um bom aspecto. Foi, sem dúvida, uma das mais horríveis unidades das SS na segunda guerra mundial, composta por assassinos condenados, violadores e pedófilos, tendo cometido inúmeros, e brutais, crimes de guerra». O mesmo jornalista partilhou outro vídeo de 10 de Novembro, de uma coluna de veículos blindados ucranianos, em que uma bandeira com o símbolo da Reichsadler e do Sol Negro (usadas pelo Governo nazi e pelas SS) é acenada por soldados de um dos veículos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Internacional|
Ucrânia retira acreditação a jornalistas que reportaram tomada de Kherson

Internacional|
Zelensky partilha imagem de soldado ucraniano com símbolo nazi
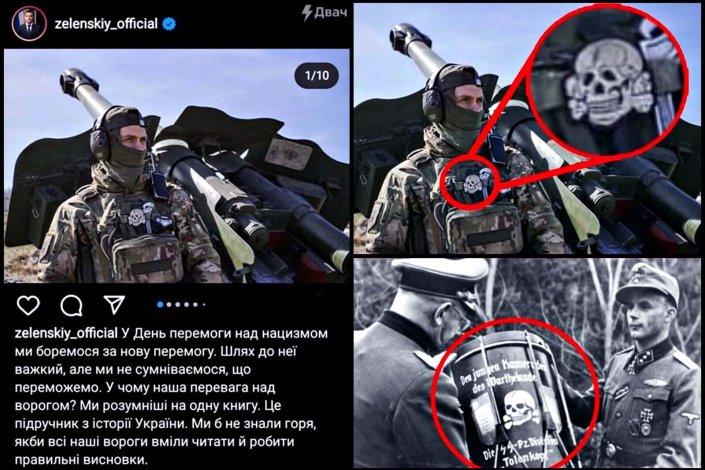
Internacional|
«Há indícios crescentes de que o Canadá treinou extremistas ucranianos»

Nacional|
Mário Machado incorporou neo-nazis portugueses em milícias na Ucrânia

Internacional|
Os neonazis portugueses que vão combater, os que fogem e os amigos deles

Os neonazis que segundo as televisões não existem na Ucrânia
«Putin é um judeu», garante um combatente do Azov
Tortura e violação como forma de actuação
A verdadeira história dos nazis e a falsa história da desnazificação
O neoliberalismo antecipou a guerra
Contribui para uma boa ideia
«Raparigas brancas lutarão!»
Internacional|
Combate à glorificação do nazismo com voto contra dos EUA e abstenção da UE

Contribui para uma boa ideia
Azov e a NATO, com Israel pelo meio. «Se a paz vier com o governo do Zelensly, o palhaço judeu, ainda no poder, vai haver guerra civil»
Internacional|
Zelensky suspende a actividade de 11 partidos políticos na Ucrânia


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários relatórios e reportagens comprovam a relação entre o Canadá e forças neo-nazis
Internacional|
À boleia de Zelensky, neonazis falam no parlamento grego

Contribui para uma boa ideia
Mesmo após as denúncias, forças armadas canadianas continuaram a treinar neo-nazis

Contribui para uma boa ideia
Os nazis de Schrödinger: «não existem» mas não falham uma sessão fotográfica

Simbologia de ódio

Contribui para uma boa ideia
Soldados ucranianos com insígnias nazis são identificados dias antes de entrar em Kherson
Contribui para uma boa ideia
Quanto à Ucrânia, estamos perante um pouco mais do mesmo. As associações ocidentais que dizem representar os jornalistas lamentam, com propriedade, os profissionais que são vítimas directas da invasão russa; mas são bem menos, ou mesmo nada, enfáticas perante a violência muitas vezes assassina contra jornalistas praticada pelo regime nazi-banderista de Kiev, atingindo tanto os que, internamente, procuram desmascarar a repressão contra as vozes discordantes como os que são vítimas das agressões banderistas contra as populações do Donbass. Este equilíbrio desequilibrado, uma réplica das conhecidas posições de dois pesos e duas medidas assumidas pelos governos e pelas estruturas da União Europeia, desprestigiam os jornalistas e transformam-nos em alvos ainda mais fáceis e manobráveis das estruturas de poder. Numa frase curta: os jornalistas ocidentais não se dão ao respeito e sofrem as consequências. Em última análise, aviltam a profissão, tratam a deontologia como as mafias patronais encaram as leis e deixam os cidadãos indefesos e à mercê de um sistema triturador, inimigo do esclarecimento e da pluralidade de ideias, alienante e mesmo estupidificante.
«Este equilíbrio virtual entre algozes e vítimas é próprio de governos cúmplices dos autores dos massacres e deixa pelas ruas da amargura a independência e a coragem que devem guiar os jornalistas.»
Quando chega a hora de os poderes patronais, por esta ou aquela razão sem fundamento, ajustarem contas com profissionais da informação, só porque sim, como agora acontece através da Europa graças a uma crise auto-infligida, é óbvio que não levam em consideração os serviços prestados, nem sequer o zelo subserviente dos lambe-botas. Então os jornalistas descobrem que estão sozinhos, sem poderem contar seriamente com as organizações que dizem representá-los, quantas vezes emaranhadas no acessório, nem com o apego das classes políticas ao cumprimento das leis porque, na verdade, quem faz a lei que conta são os poderes oligárquicos, os padrinhos de redes mafiosas globalistas.
Aos jornalistas continua a restar apenas um caminho para exercer verdadeiramente a profissão: o da independência e o da procura da verdade através de todos os meios que estão ao seu alcance. É a via mais dura, exige coragem, empenho, risco e a abdicação de comodismos e mordomias que corrompem e, em boa verdade, são estranhas ao exercício da profissão; mas é a via mais digna, a que compensa, a prazo, e a que transforma o jornalismo num quase inexplicável fascínio para os que o praticam com dedicação e respeito inegociável pelo direito de todos a uma informação fundamentada e rigorosa. Esse é também o caminho para que a maioria dos cidadãos, usufruindo do autêntico direito a ser informados, sejam mais livres, mobilizados e esclarecidos. Tudo aquilo que os patrões mediáticos e a classe política «liberal» não toleram.
Contribui para uma boa ideia
Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz.
O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.
Contribui aqui




